
Postado em abr. de 2021
Filosofia | Psicologia e Saúde Mental
Andrei Venturini Martins: Quando o céu desaba...
Andrei Venturini Martins apoia-se na mitologia egípcia com o deus Shou para refletir sobre as formas de contingência que angustiam a humanidade e fazem o homem questionar o sentido da vida
Por Andrei Venturini Martins
Há um mito do antigo Egito que conta a história do deus Shou, o deus dos ares. Antes mesmo da existência do céu, homens e deuses viviam sobre a terra. Tal relação era conturbada, principalmente para o lado mais frágil, aquele dos homens, constantemente aturdidos pela poderosa violência das divindades. O caos reinava. A fim de conter o atrito entre as partes beligerantes, Shou assentou seus pés sobre a terra e levantou com seus fortes braços o peso inestimável do céu. Por essa ação, exilou os deuses na abóboda celeste e os homens, aparentemente aliviados, puderam desfrutar dos benefícios da terra sem a coação das divindades. O drama humano de outrora havia se dissipado pela ação divina, mas uma ameaça ainda rondava o coração dos mortais: a ordem corrente estava sempre ameaçada, pois, a qualquer momento, Shou poderia deixar o céu desmoronar sobre os homens. Para atenuar esse risco permanente, os mortais honravam o deus dos ares – como era conhecido – e mantinham, por meio dessa estratégia, um equilíbrio precário.[1]
A narrativa egípcia nos convida a pensar: às vezes, parece que Shou sai de férias. Quando isso acontece, o céu desaba, o peso do firmamento recai sobre nossas cabeças e nos apresenta uma das características mais marcantes da condição humana: a contingência. Em meio a um cosmos gigantesco, experimentamos nossa fragilidade quando nos deparamos com a violência do mundo, que se apresenta pelas doenças, pela fúria da natureza, ou quem sabe pelas dificílimas relações humanas.
As enfermidades nos revelam que temos um corpo que, com o passar do tempo, ganha autonomia: quando você é jovem, provavelmente possui uma razão capacitada para dar as diretrizes da ação, conduzindo seu organismo para onde quer que seja. Todavia, quando a idade já está avançada, o corpo ganha autonomia e, praticamente, passa a mandar em você. A Razão diz: Vou à biblioteca e, em seguida, passarei em um café. No entanto, o corpo impera: Alto lá! Hoje ficarás em casa com dores nas costas a lhe roer os ossos. É a voz da contingência expressa pela carne. Corpo é destino, por mais criativa que seja a medicina, carregamos conosco um cadáver.
Além do corpo, o que dizer da “mãe natureza”? Seus ventos movem moinhos e ajudam a navegar. Contudo, pelos furacões, arremessam nossas casas ao chão e carregam as tempestades que, pelo agito do mar, afundam os barcos. A terra, às vezes, entra em colapso e engole, com seus tremores, homens e animais. Há ainda os tsunamis, que rompem os limites das praias e, num instante, aniquilam cidades inteiras. Ciente dessa expressão da contingência da natureza, David Hume, filósofo escocês do século XVIII, dispara: “Tudo isso não nos oferece senão a ideia de uma Natureza cega, embebida de um grande princípio vivificador, que despeja de seu regaço sua prole defeituosa e degenerada, sem qualquer discernimento ou cuidado maternal”.[2] A Natureza, essa força cósmica, longe de se apresentar de forma orgânica e ordenada, com nexos causais, adequando as partes e o todo, mais parece nos apresentar os ecos da contingência, daquela desordem que nos ameaça e da qual, para os egípcios, só poderíamos ser resguardados pela benevolência de Shou.
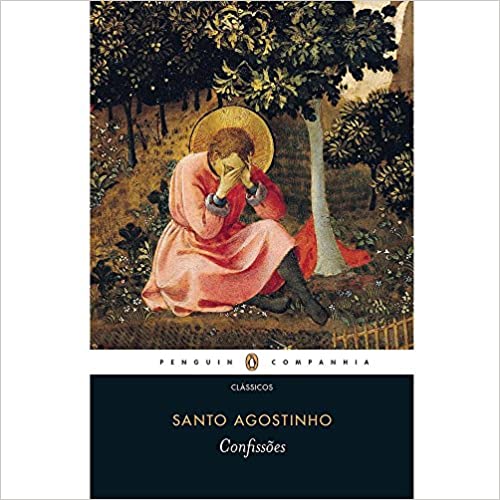
Mas ainda que estivéssemos protegidos das invectivas dos deuses, quem nos livraria da violência humana? As leis poderiam vir em nosso auxílio e nos socorrer sem demora? Não para Blaise Pascal, o pensador da contingência e da fragilidade humana em meio à aurora do pensamento moderno: “O furto, o incesto, o assassínio das crianças e dos pais, tudo teve seu lugar entre as ações virtuosas”.[3] As leis podem ser parâmetros de como deveríamos viver, mas não bastam para nos livrar da violência alheia. Há quem as transgrida pelo simples prazer de transgredir. Nas Confissões, a mais conhecida obra de Santo Agostinho, o filósofo narra o roubo de algumas peras, um acontecimento aparentemente insignificante, entretanto capaz de ilustrar a contingência que marca as relações humanas. Agostinho, ainda adolescente, apesar de ter frutas mais suculentas disponíveis em sua casa, invade o terreno de um vizinho com um grupo de amigos e furta bens alheios. Mais tarde, já como bispo da cidade de Hipona, dá o seu diagnóstico: “fizemos aquilo pelo prazer do proibido”.[4] O jovem de 16 anos fez o mal pelo prazer de transgredir, ou melhor, não havia outra causa em sua “maldade senão a própria maldade”.[5] É comum encontrarmos casos, evidentemente de grande repercussão pública, em que filósofos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras e psicólogos suam a camisa a fim de darem uma explicação adequada aos crimes de sangue: parricídio, fratricídio etc. Penso que, para além das possíveis causas profundas ou superficiais que determinam um crime hediondo, não podemos deixar de considerar o diagnóstico agostiniano: o homem é mal e, por vezes, mata porque gosta. É uma explicação aparentemente rasa, mas possível, e que revela uma vontade humana corrompida, cindida entre o bem e o mal. Apesar da vilania humana, decerto ainda há cooperação entre as pessoas, como muito bem destacou o filósofo inglês Roger Scruton, em julho de 2019, em sua conferência no Fronteiras do Pensamento – e a prova disso são cidades inteiras, continentes gigantescos, que vivem a maior parte do tempo em relativa paz e não em guerra. Não obstante, o grande mestre de Viena, Sigmund Freud, dizia que em meio ao armistício aparente há muitíssimas pessoas civilizadas que “não se negam à satisfação de sua cobiça, de seu prazer em agredir, de seus apetites sexuais, não deixam de prejudicar outras com mentiras, fraudes e calúnias se puderem fazê-lo impunemente, e assim sempre foi, ao longo de muitas épocas da civilização”.[6] A impressão de Santo Agostinho, na antiguidade tardia, e aquela de Freud, no século das duas grandes guerras, não estão tão distantes: o homem, abandonado em si mesmo, está disposto a prejudicar seus semelhantes, desde que isso lhe seja favorável.
Mas se a contingência mostra suas garras pelas adversidades externas – doenças, natureza e relações com os outros –, não podemos nos esquecer da dramática “existência de um mundo interno”.[7] A contingência também irrompe de dentro, do coração, das profundezas da alma: “Porque ou se pensa nas misérias que se têm ou naquelas que nos ameaçam. E ainda quando se estivesse bastante protegido por todo o lado, o tédio, com sua autoridade própria, não deixaria de sair do fundo do coração, onde tem raízes naturais, e de encher o espírito com o seu veneno”.[8] No século XVII, tédio [ennui] significava uma tristeza profunda que se levanta do mais íntimo do nosso ser, e, quando isso acontece, o homem – e principalmente o jovem – passa a “sentir o seu nada sem o conhecer, porque é ter muita infelicidade estar em uma tristeza insuportável”.[9] Além do tédio, Pascal aquilata a erupção de outros afetos, como “o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero”.[10] Esse é o quadro psicológico da contingência, uma espécie de mal-estar que nos habita no âmago de nosso ser e, assim como a guerra e a peste, sempre nos pegam desprevenidos.
Nesse caso, a contingência apresenta-se como uma expressão dolorida do inferno espiritual em que o homem está imerso, e do qual ninguém está imune, já que o céu de Shou pode desabar a qualquer momento, como bem destacou um dos pensadores mais proeminentes do século XX, Albert Camus: “Cenário desabar é coisa que acontece. Acordar, bonde, quatro horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, quatro horas de trabalho, jantar, sono e segunda terça quarta quinta sexta e sábado no mesmo ritmo, um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia, surge o ‘por que’ e tudo começa dentro deste cansaço tingido de espanto”.[11] Essa sensação de desorientação diante do mundo, de falta de sentido, é a aquilo que Camus chamou de sentimento absurdo. Trata-se da percepção não somente da fragilidade humana diante da engrenagem violenta e indiferente do universo, mas da dificuldade de atribuir sentido a uma existência que nos escapa. Contudo, a percepção do caos pode ser uma oportunidade. É justamente quando Shou abandona o céu e o mundo desaba sobre nossos ombros que o absurdo se revela, trazendo consigo os traços da contingência. Nesse crudelíssimo momento, estaríamos aptos a responder à questão mais relevante da existência, indagação da qual ninguém poderá se esquivar: vale a pena viver?
Quando o céu de Shou desaba, sentimos as dores do mundo, abrimos os nossos olhos para o absurdo da existência, para o caos. E, mesmo diante da contingência que fere o corpo, que nos ameaça pela força da natureza, que nos tira dos trilhos quando falhamos na difícil arte de conviver com os outros – ou que irrompe soberana do profundo de nossa alma como tristeza profunda –, ainda podemos conservar o amor pela vida, reconhecendo-a como um valor inestimável, como pensava Camus: “No apego de um homem à sua vida, há algo mais forte que todas as misérias do mundo”.[12] O simples esforço para permanecer vivo, apesar da contingência que nos ataca de todos os lados, é uma confissão: vale a pena viver. Essa é a vida autêntica, desprovida das ilusões, ciente de que a existência está plena de luzes e de sombras.
Quando o céu desaba e renascemos para a vida tal qual ela é, somos convidados a pensar, e “começar a pensar é começar a ser atormentado”.[13]
[1] Rüdiger Safranski. Le Mal ou le Théâtre de la liberté. Trad. Valérie Sabathier. Paris: Bernard Grasset, 1999, p. 13-14.
[2] David HUME. Diálogos sobre a religião natural. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 159.
[3] Blaise PASCAL. Pensées, Laf. 60. Bru. 294.
[4] Santo AGOSTINHO. Confissões. 2ª ed. Trad. Lorenzo Mammì. São Paulo: Companhia das Letras, II, IV, 9.
[5] Santo AGOSTINHO. Confissões, II, IV, 9.
[6] Sigmund FREUD. O Futuro de uma Ilusão in Obras Completas. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 242 (Volume 17)
[7] Idem, Pulsões e Destinos da Pulsão in Escritos sobre Psicologia do Inconsciente (1911-1915). trad. Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago Editora, 2004, p. 147. (Volume I)
[8] Blaise PASCAL. Pensées, Laf. 136. Bru. 139.
[9] Ibid., Laf. 36. Bru. 164.
[10] Ibid., Laf. 622. Bru. 131.
[11] Albert CAMUS. Le mythe de Sisyphe: essai sur l’absurde, p. 29.
[12] Ibid., p. 22.
[13] Ibid., p. 29.
Andrei Venturini Martins, é professor no Instituto Federal São Paulo e pesquisador do Labô/PUC-SP.


