
Postado em abr. de 2021
Literatura | História | Cultura | Cultura | Mulheres Inspiradoras | Mulheres Inspiradoras
Anne Applebaum, O Crepúsculo da Democracia - como o autoritarismo e as amizades são desfeitas em nome da política
Leia um excerto do livro de Anne Applebaum, O Crepúsculo da Democracia - como o autoritarismo e as amizades são desfeitas em nome da política, publicado no Brasil pela Editora Record.
Leia a seguir um excerto do livro O crepúsculo da democracia: Como o autoritarismo seduz e as amizades são desfeitas em nome da política, publicado no Brasil pela Editora Record.
De Orwell a Koestler, os escritores europeus do século XX se mostraram obcecados com a ideia da Grande Mentira, vastos constructos ideológicos como os do comunismo e do fascismo. Os cartazes exigindo lealdade ao Partido ou ao Líder, os camisas-marrons e os camisas-negras marchando em formação, os desfiles à luz de tochas, a polícia do terror, todas essas demonstrações forçadas de apoio às Grandes Mentiras eram tão absurdas e inumanas que exigiram prolongada violência para impor e ameaça de violência para manter. Elas exigiram educação forçada, controle total da cultura e politização do jornalismo, dos esportes, da literatura e da arte.
Em contraste, os movimentos políticos polarizantes da Europa do século XXI requerem muito menos de seus seguidores. Eles não esposam uma ideologia totalmente desenvolvida e, portanto, não precisam de violência ou polícia do terror. Eles querem que seus clercs os defendam, mas não os forçam a proclamar que preto é branco, que guerra é paz e que as fazendas estatais colheram 1000% da produção planejada. A maioria não emprega propaganda que conflita com a realidade cotidiana. E, mesmo assim, todos dependem, se não de uma Grande Mentira, daquilo que o historiador Timothy Snyder certa vez chamou de Mentira Média. Para dizer de outro modo, todos encorajam seus seguidores a se engajarem, ao menos durante parte do tempo, em uma realidade alternativa. Às vezes, essa realidade alternativa se desenvolve de modo orgânico; com mais frequência, é cuidadosamente formulada, com a ajuda de técnicas modernas de marketing, segmentação do público e campanhas nas mídias sociais.
Os americanos, é claro, estão familiarizados com as maneiras pelas quais uma mentira pode aumentar a polarização e inflamar a xenofobia. Muito antes de concorrer à Presidência, Donald Trump entrou na política promovendo o nascimentismo [birtherism], a falsa premissa de que o presidente Barack Obama não nascera nos Estados Unidos, uma teoria da conspiração cujo poder foi seriamente subestimado na época. Mas, em ao menos dois países europeus, a Polônia e a Hungria, temos exemplos do que acontece quando uma Mentira Média — uma teoria da conspiração — é propagada primeiro por um partido político como princípio central de sua primeira campanha e depois pelo partido governante, com toda a força do aparato estatal moderno e centralizado por trás de si.
Na Hungria, a mentira não é original: trata-se da crença, agora promovida pelo governo russo e muitos outros, nos poderes sobre-humanos de George Soros, o bilionário judeu húngaro que supostamente conspirou para destruir a Hungria através da deliberada importação de migrantes. Essa teoria, como muitas teorias da conspiração bem-sucedidas, foi construída sobre um grão de verdade: Soros certa vez sugeriu que a rica Europa fizesse um gesto humanitário e admitisse mais sírios, a fim de ajudar as nações mais pobres do Oriente Médio a lidarem com a crise de refugiados. Mas a propaganda na Hungria — e em vários sites europeus e americanos de extrema direita, de supremacia branca ou “identitários” — vai muito além disso. Ela sugere que Soros é o principal instigador de um complô judeu deliberado para substituir os europeus brancos e cristãos — particularmente húngaros — por muçulmanos de pele escura. Esses movimentos não percebem os migrantes somente como fardo econômico ou mesmo ameaça terrorista, mas como desafio existencial à própria nação. Em vários momentos, o governo húngaro colocou o rosto de Soros em cartazes, nas paredes do metrô e em panfletos, esperando que isso assustasse tanto os húngaros que eles apoiariam o governo.
Na Polônia, a mentira ao menos é sui generis. Trata-se da teoria da conspiração de Smolensk, que obseda minha antiga amiga Anita Gargas e tantos outros: a crença de que um complô nefário derrubou o avião do presidente em abril de 2010. A história tem força especial na Polônia porque o acidente realmente teve misteriosos ecos históricos. O presidente que morreu, Lech Kaczyński, estava a caminho de um evento em memória dos massacres de Katyń, uma série de execuções em massa ocorridos em 1940, quando Stalin assassinou mais de 21 mil oficiais poloneses — um ataque deliberado à então elite do país. Dezenas de figuras militares e políticos importantes estavam a bordo, muitos dos quais meus amigos. Meu marido conhecia quase todo mundo no avião, incluindo a tripulação.
Uma grande onda de emoção se seguiu ao acidente. Uma espécie de histeria, parecida com a loucura que tomou os Estados Unidos após o 11 de Setembro, engolfou a nação. Os apresentadores de TV usaram gravatas pretas; amigos se reuniram em nosso apartamento em Varsóvia para falar sobre a história se repetindo naquela escura e úmida floresta russa. Minhas próprias lembranças dos dias que se seguiram ao acidente são confusas e caóticas. Lembro de comprar um terninho preto para usar no velório; lembro de uma das viúvas, tão abalada que mal parecia capaz de se manter em pé, chorando durante o funeral do marido. Meu próprio marido, que recusara o convite para viajar com o presidente, ia ao aeroporto toda noite e observava, atenciosamente, os caixões que chegavam.
Inicialmente, a tragédia pareceu unir as pessoas; afinal, políticos de todos os partidos importantes estavam no avião. Os funerais ocorreram em todo o país. Até mesmo Vladimir Putin, então primeiro-ministro russo, pareceu comovido. Ele foi até Smolensk para se encontrar com Tusk, então primeiro-ministro polonês, na noite do acidente. No dia seguinte, um dos canais de TV mais assistidos da Rússia exibiu Katyń, um filme emocionante e muito antissoviético dirigido por Andrzej Wajda, renomado diretor polonês. Nada assim jamais foi exibido tão amplamente na Rússia, antes ou depois.
Mas o acidente não aproximou as pessoas. Nem a investigação de suas causas.
Equipes de especialistas poloneses chegaram ao local no mesmo dia. Eles fizeram seu melhor para identificar os corpos. Examinaram os destroços. Quando a caixa-preta foi encontrada, passaram a transcrever a fita da cabine. A verdade, como começou a emergir, não era reconfortante para o Lei e Justiça ou para seu líder, o irmão gêmeo do presidente. O avião decolou com atraso; o presidente provavelmente estava com pressa de aterrissar, porque queria usar a viagem para iniciar sua campanha de reeleição. Ele pode ter ficado acordado até tarde, bebendo, na noite anterior. Quando os pilotos se aproximaram do local, descobriram que havia neblina espessa em Smolensk, que não possui aeroporto, somente uma pista na floresta; eles pensaram em desviar o avião, o que significaria uma viagem de carro de várias horas até a cerimônia. Depois de um breve telefonema entre o presidente e seu irmão, seus conselheiros aparentemente pressionaram os pilotos a aterrissar. Alguns deles, agindo contra o protocolo, entraram e saíram da cabine durante o voo. Também contra o protocolo, o chefe da Força Aérea entrou na cabine e se sentou ao lado dos pilotos. “Zmieścisz się śmiało” — “Vocês vão conseguir, sejam ousados”, disse ele. Segundos depois, o avião colidiu contra a copa de algumas bétulas, rolou e caiu no solo.
Inicialmente, Jarosław Kaczyński pareceu acreditar que a queda fora acidental. “É culpa sua e dos tabloides”, disse ele a meu marido, que teve a horrível tarefa de informá-lo sobre o acidente. Com isso, ele queria dizer que a culpa era do governo, porque, intimidado pelo jornalismo de tabloide, recusara-se a comprar aviões novos. Mas, com o avanço da investigação, as descobertas não lhe agradaram. Não havia nada errado com o avião.
Talvez, como tantas pessoas que usam teorias da conspiração para lidar com tragédias aleatórias, Kaczyński simplesmente fosse incapaz de aceitar que seu amado irmão morrera sem motivo; talvez não pudesse aceitar o ainda mais difícil fato de que as evidências sugeriam que o presidente e sua equipe, talvez até mesmo inspirados por aquele telefonema, haviam pressionado os pilotos a aterrissar, dando início a uma cadeia de eventos que levou à queda. Talvez ele se sentisse culpado — a viagem fora ideia sua — ou com remorsos. Ou talvez, como Donald Trump, tenha compreendido como uma teoria da conspiração podia ajudá-lo a obter poder.
Assim como Trump usou o nascimentismo para alimentar as suspeitas contra o “establishment” antes mesmo de ser candidato, Kaczyński talvez tenha usado a tragédia de Smolensk para galvanizar seus seguidores, angariar novos apoiadores na extrema direita e convencê-los a não confiar no governo ou na mídia. Algumas vezes, ele sugeriu que o governo russo derrubara o avião. Em outras, culpou o antigo partido governante, então maior partido de oposição, pela morte do irmão: “Vocês o destruíram, vocês o assassinaram, vocês são a escória!”, gritou ele no Parlamento.
Nenhuma dessas acusações é verdadeira e, em algum nível, ele parece saber disso. Talvez para se distanciar das mentiras que precisavam ser contadas, ele entregou a tarefa de promover a teoria da conspiração a um de seus mais antigos e esquisitos camaradas. Antoni Macierewicz é membro da geração de Kaczyński, anticomunista de longa data, embora com algumas estranhas conexões russas e hábitos ainda mais estranhos. Seu comportamento segredista e suas obsessões pessoais — ele considera Os protocolos dos sábios de Sião um documento plausível — até mesmo levaram o Lei e Justiça a fazer uma promessa de campanha em 2015: Macierewicz definitivamente não seria ministro da Defesa.
Mas, assim que o partido venceu, Kaczyński quebrou a promessa e nomeou Macierewicz justamente para esse cargo. De imediato, Macierewicz começou a institucionalizar a mentira de Smolensk. Ele criou uma nova comissão de investigação composta por excêntricos, entre eles um etnomusicólogo, um piloto aposentado, um psicólogo, um economista russo e outras pessoas sem experiência em acidentes aéreos. O relatório oficial anterior foi removido de um site do governo. A polícia entrou nas casas dos especialistas aéreos que haviam testemunhado durante a investigação original, interrogou os especialistas e confiscou seus computadores. Quando Macierewicz foi a Washington para se reunir com suas contrapartes americanas no Pentágono, a primeira coisa que fez foi perguntar se a inteligência americana tinha alguma informação secreta sobre Smolensk. A reação foi de profunda preocupação com a saúde mental do ministro.
Quando instituições e grupos de direitos humanos europeus, algumas semanas após a eleição, começaram a responder às ações do governo Lei e Justiça, eles focaram no enfraquecimento dos tribunais e da mídia pública. Não focaram na institucionalização da teoria da conspiração de Smolensk, que, francamente, era esquisita demais para ser compreendida por outsiders. E, mesmo assim, a decisão de colocar uma fantasia no centro da política governamental realmente inspirou muito do que se seguiu.
Embora a comissão de Macierewicz jamais tenha produzido uma explicação alternativa crível para o acidente, a mentira de Smolensk lançou as bases morais para outras mentiras. Os que conseguiam aceitar a elaborada teoria podiam aceitar qualquer coisa. Podiam aceitar a promessa quebrada de não colocar Macierewicz no governo. Podiam aceitar — embora o Lei e Justiça supostamente fosse um partido “patriótico” e antirrusso — a decisão de Macierewicz de despedir muitos dos mais altos comandantes militares do país, cancelar contratos de armamentos, promover pessoas com ligações russas e atacar uma instalação da Otan em Varsóvia no meio da noite. A mentira também forneceu aos soldados da extrema direita a base ideológica para tolerar outras ofensas. Quaisquer que fossem os erros cometidos pelo partido e as leis a que desobedecesse, ao menos a “verdade” sobre Smolensk finalmente seria revelada.
A teoria da conspiração de Smolensk também ajudou a atingir outro propósito: para uma geração mais jovem, que já não se lembrava do comunismo, e para uma sociedade na qual ex-comunistas haviam amplamente desaparecido da política, ela ofereceu uma nova razão para desconfiar dos políticos, empresários e intelectuais que haviam emergido dos conflitos da década de 1990 e agora lideravam o país. Mais especificamente, ofereceu uma maneira de definir uma elite nova e melhor. Não havia necessidade de competição, exames ou um currículo cheio de realizações. Qualquer um que professasse acreditar na mentira de Smolensk era, por definição, um verdadeiro patriota e, portanto, qualificado para um emprego no governo. E a Polônia, claro, não é o único país onde esse mecanismo simples funciona.
O apelo emocional de uma teoria da conspiração reside em sua simplicidade. Ela explica fenômenos complexos, responde por acasos e acidentes e oferece ao apoiador a satisfatória sensação de ter acesso especial e privilegiado à verdade. Para aqueles que se tornaram guardiões do Estado unipartidário, a repetição dessas teorias da conspiração também oferece outra recompensa: poder.
Mária Schmidt não estava em minha festa de Ano-Novo, mas eu a conheço mais ou menos desde aquele tempo. Ela é historiadora, autora de uma obra valiosa sobre o stalinismo húngaro e me ajudou muito quando escrevi sobre o assunto. Nós nos conhecemos em 2002, quando ela me convidou para a inauguração do Terror Háza — o museu Casa do Terror — em Budapeste, que certa vez me concedeu um prêmio. O museu, ainda dirigido por ela, explora a história do totalitarismo na Hungria. Quando foi inaugurado, era um dos mais inovadores da metade oriental da Europa.
Desde o primeiro dia, o museu teve críticos ferozes. Muitos visitantes não gostaram do primeiro salão, que tinha um painel de televisores em uma das paredes, exibindo propaganda nazista, e um painel de televisores na parede oposta, exibindo propaganda comunista. Em 2002, a comparação entre os dois regimes ainda era um choque, embora já não tanto agora. Outros sentiram que o museu dava insuficiente peso e espaço aos crimes do fascismo, embora os comunistas tenham governado a Hungria por muito mais tempo que os fascistas, de modo que havia mais a mostrar. Eu gostei do fato de o museu tentar atingir as pessoas mais jovens com suas exposições de vídeos e áudios e seu uso inteligente dos objetos. Também gostei de ver a exibição de húngaros comuns colaborando com ambos os regimes, o que poderia ajudar seus descendentes a entenderem que seu país — como qualquer outro — devia assumir a responsabilidade por sua própria política e história, evitando a estreita armadilha nacionalista de culpar estrangeiros pelos problemas.
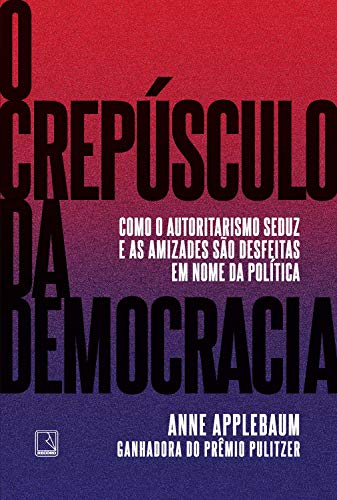
Mas foi precisamente nessa estreita armadilha nacionalista que a Hungria caiu. O tardio acerto de contas com o passado comunista — criando museus, realizando memoriais, nomeando perpetradores — não ajudou a cimentar o respeito pelo estado de direito, como eu achei que faria. Ao contrário, dezesseis anos após a inauguração do Terror Háza, o partido governante húngaro não respeita restrições de nenhum tipo. Ele foi muito mais longe até que o Lei e Justiça na politização da mídia estatal e na destruição da mídia privada, fazendo ameaças, bloqueando o acesso à publicidade e encorajando empresários amigáveis a comprarem as propriedades de uma mídia enfraquecida pela perseguição e pela falta de receita. Além de uma claque de ideólogos, o governo húngaro, como o russo, também criou uma nova elite comercial que é leal a Orbán e se beneficia disso. Um empresário húngaro que preferiu não ser citado me disse que, logo depois que Orbán assumiu o governo, camaradas do regime exigiram que ele lhes vendesse sua empresa por um preço baixo; quando ele se recusou, eles organizaram “inspeções fiscais” e outras formas de perseguição, assim como uma campanha de intimidação que o forçou a contratar guarda-costas. Finalmente, ele, como muitos outros em sua posição, vendeu a empresa e deixou o país.
Como o governo polonês, o Estado húngaro promove uma Mentira Média: ele bombardeia propaganda afirmando que seus problemas — incluindo o coronavírus, que os hospitais nacionais estão mal equipados para combater — são causados por migrantes muçulmanos inexistentes, pela UE e, novamente, por George Soros. A despeito de suas credenciais na oposição e de suas realizações intelectuais, Schmidt — historiadora, acadêmica e curadora de museu — foi uma das principais autoras dessa mentira. Ela periodicamente publica longas, furiosas, fulminantes postagens contra Soros; contra a Universidade Centro-Europeia, fundada originalmente com dinheiro dele; e contra os “intelectuais de esquerda”, entre os quais ela parece incluir principalmente democratas liberais de centro-esquerda e centro-direita.
São muitas as ironias e paradoxos em sua vida. Schmidt foi membro, embora não proeminente, da oposição anticomunista. Ela uma vez me contou que, em seus anos de universidade, todos os oponentes do comunismo trabalhavam na mesma biblioteca de Budapeste; em certo momento, alguém dava o sinal e todos se reuniam para um café. Depois de 1989, ela foi grande beneficiária da transição política húngara: seu falecido marido fez fortuna no mercado imobiliário pós-comunismo, graças à qual ela vive em uma casa espetacular nas colinas de Buda. Embora tenha conduzido uma campanha publicitária projetada para minar a Universidade Centro-Europeia, fundada por Soros, seu filho se formou lá. E embora saiba muito bem o que aconteceu em seu país na década de 1940, ela seguiu, passo a passo, o manual do Partido Comunista quando assumiu a Figyelő, uma revista outrora respeitada: ela trocou os editores, expulsou os repórteres independentes e os substituiu por escritores confiáveis e leais ao governo.
A Figyelő permaneceu “propriedade privada” e, portanto, tecnicamente independente. Mas, desde o início, não foi difícil ver quem a apoiava. Uma edição que atacava as ONGs húngaras — a capa as comparava visualmente ao Estado Islâmico — também incluía doze páginas de propaganda paga pelo governo para o Banco Nacional, o Tesouro e a campanha oficial contra Soros. Essa é uma reinvenção moderna da imprensa unipartidária pró-governo, com o mesmo tom cínico das publicações comunistas de outrora. É uma versão húngara da televisão estatal polonesa de Jacek Kurski: desdenhosa, vulgar, brutal. Em abril de 2018, a revista publicou uma lista dos supostos “mercenários de Soros” — os “traidores” que trabalhavam para organizações que recebiam doações dele —, marcando-os como alvos de desdém e ataques. Em dezembro do mesmo ano, colocou András Heisler, o líder da comunidade judaica húngara, na capa, com cédulas de 20 mil florins flutuando em torno de sua imagem.
Schmidt concordou em conversar comigo — após me chamar de “arrogante e ignorante” — somente se eu ouvisse suas objeções a um artigo, sobre a Hungria e outras coisas, que eu escrevera para o The Washington Post. A despeito desse convite pouco promissor, voei até Budapeste, onde a conversa franca que eu esperava se provou impossível. Schmidt fala um inglês excelente, mas disse que queria usar um tradutor. Ela apresentou um jovem de aparência aterrorizada que, a julgar pelas transcrições, deixou de fora grandes trechos do que ela disse. E, embora me conheça há quase duas décadas, ela colocou um gravador sobre a mesa, no que presumi ser um sinal de desconfiança.
Então repetiu os mesmos argumentos de seu blog. Como principal evidência de que George Soros “controla” o Partido Democrata americano, citou um episódio do Saturday Night Live. Como prova de que os Estados Unidos são “uma potência colonizadora com fortes bases ideológicas”, citou um discurso de Barack Obama no qual ele criticou uma fundação húngara por propor erigir uma estátua em homenagem a Bálint Hóman, o homem que escreveu as leis antijudaicas nas décadas de 1930 e 1940. Repetiu a alegação de que a imigração representa um grave risco para a Hungria e ficou irritada quando eu perguntei, várias vezes, onde estão todos esses imigrantes. “Na Alemanha”, rosnou ela por fim. É claro que estão: os poucos imigrantes do Oriente Médio que conseguiram entrar na Hungria em 2016 não desejavam ficar. A imigração na Hungria é um problema imaginário, não real.
Schmidt é melindrosa, irritadiça: ela diz que se sente tratada com indulgência, e não somente por mim. Recentemente, o escritor Ivan Krastev descreveu esse estado emocional e o comparou a uma mentalidade “pós-colonial”.14 Pouco impressionadas (ou interessadas) pelos valores universais subjacentes à democracia, algumas pessoas, especialmente intelectuais de renome como Schmidt, agora acham humilhante terem sido imitadoras do projeto democrático ocidental, em vez de fundadoras de algo original. Ao falar comigo, Schmidt usou precisamente essa linguagem. A mídia e os diplomatas ocidentais “falam com superioridade com aqueles que estão abaixo, como costumava ser com as colônias”, disse ela. Quando ouve falar de antissemitismo, corrupção e autoritarismo, ela instintivamente reage com uma versão de “não é da sua conta”.
Mas Schmidt, que gasta muito tempo criticando a democracia ocidental, não oferece nada melhor ou diferente em seu lugar. A despeito de ser dedicada à originalidade da Hungria e ao valor da “hungariedade”, ela retirou grande parte de sua ideologia profundamente não original do Breitbart News, incluindo a descrição caricatural das universidades americanas e as piadas desdenhosas sobre “banheiros transexuais”. No entanto, não existe uma esquerda cultural propriamente dita na Hungria e, de qualquer modo, Orbán, que colocou a Academia Húngara de Ciências sob controle direto do governo, silenciou os acadêmicos e expulsou a Universidade Centro-Europeia do país, é um risco muito maior à liberdade acadêmica que qualquer esquerdista. Conheço ao menos um grupo de acadêmicos húngaros que decidiram não publicar uma análise eleitoral — que demonstrava que o Fidesz trapaceou — por medo de perderem financiamento ou seus empregos. Mesmo assim, Schmidt continua a luta contra a “esquerda” inexistente. Ela até mesmo convidou Steve Bannon e Milo Yiannopoulos para irem a Budapeste, muito depois de essas duas tristes figuras terem deixado de ter influência nos Estados Unidos. No fim das contas, até mesmo o nacionalismo de direita alternativa de Schmidt é uma imitação.
A outra ironia é o quanto ela, muito mais que Orbán, personifica perfeitamente o etos dos bolcheviques, que genuinamente odeia. Seu cinismo é profundo. O apoio de Soros aos refugiados sírios não pode ser filantropia; deve vir do profundo desejo de destruir a Hungria. Os comentários de Obama sobre a estátua não podem ter sido sinceros; devem refletir um relacionamento financeiro com Soros. A política de refugiados de Angela Merkel não pode vir do desejo de ajudar pessoas; ela deve ter uma agenda oculta e nefária. “Acho que é papo furado”, disse Schmidt. “Acho que ela quer provar que, dessa vez, os alemães são boas pessoas. E podem dar lições sobre humanismo e moralidade. Para os alemães, não importa o conteúdo, desde que eles possam continuar a dar lições de moral no restante do mundo.” Tudo isso lembra o desdém de Lenin pelas instituições da “democracia burguesa”; pela imprensa livre, que considerava falsa; e pelo idealismo liberal, que considerava inautêntico.
Mas a Mentira Média está funcionando para Orbán — assim como para Donald Trump e Kaczyński —, mesmo que seja somente porque foca a atenção mundial em sua retórica, e não em suas ações. Eu e Schmidt passamos a maior parte de nossa desagradável conversa de duas horas argumentando sobre questões disparatadas: George Soros controla o Partido Democrata? Os migrantes que tentaram atravessar a Hungria para chegar à Alemanha em 2016 — e que agora deixaram de vir — ainda são uma ameaça à nação, como insiste a propaganda governamental? Não discutimos a influência russa na Hungria, que agora é muito forte, ou o fato de as exposições especiais do museu de Schmidt terem lentamente começado a refletir a nova forma de correção política, antialemã e antieuropeia, do país: no aniversário de 1917, por exemplo, ela organizou uma exposição que retratava a Revolução Russa como nada mais que uma operação da inteligência alemã.
Não falamos sobre a corrupção ou sobre as várias maneiras — documentadas pela Reuters, pelo Financial Times e por outros — pelas quais os amigos de Orbán se beneficiaram pessoalmente dos subsídios europeus e da prestidigitação legislativa. O método de Orbán funciona: fale sobre questões emocionais. Apresente-se como defensor da civilização ocidental, especialmente no exterior. Dessa maneira, ninguém notará o nepotismo e a corrupção no ambiente doméstico.
Tampouco, no fim das contas, descobri muito sobre os motivos de Schmidt. Tenho certeza de que seu orgulho nacional é sincero. Mas ela realmente acredita que a Hungria enfrenta uma grave ameaça existencial na forma de George Soros e alguns sírios invisíveis? Talvez ela seja uma daquelas pessoas que conseguem se persuadir a acreditar no que é vantajoso acreditar. Ou talvez seja tão cínica em relação a seu lado quanto é em relação a seus oponentes, e isso tudo seja somente um jogo elaborado.
Há vantagens em sua posição. Graças a Orbán, ela tem há quase duas décadas o financiamento e o apoio político necessários para manter não somente seu museu, mas também dois institutos históricos, dando-lhe um poder único para modelar a maneira como os húngaros lembram de sua história, um poder que ela adora. Nesse sentido, ela realmente lembra o escritor francês Maurice Barrès, um dos clercs de Julien Benda. Embora Barrès tenha começado como “cético intelectual”, escreveu Benda, “sua prosperidade cresceu cem vezes, ao menos em seu próprio país, quando ele se tornou apóstolo dos ‘preconceitos necessários’”.16 Barrès adotou a política extremista de direita e se tornou rico e famoso no processo. O furioso anticolonialismo de Schmidt também a ajudou.
Talvez seja por isso que ela jogue tão cuidadosamente, sempre se mantendo no lado certo do partido governante. Depois que nos encontramos, ela publicou em seu blog, sem minha permissão, uma transcrição fortemente editada de nossa conversa, confusamente apresentada como sua entrevista comigo e que parecia tentar provar que ela “vencera” adiscussão. A transcrição também foi publicada, em inglês, no site oficial do governo húngaro.
Tente imaginar a Casa Branca publicando a transcrição de uma conversa entre, digamos, o diretor do Instituto Smithsoniano e um crítico estrangeiro de Trump e você entenderá quão estranho é isso tudo. Mas, quando vi a transcrição, entendi por que ela concordara com a entrevista: fora uma performance com o intuito de provar para outros húngaros que ela é leal ao regime e está disposta a defendê-lo. O que é verdade.

Anne Applebaum
Escritora e jornalista


